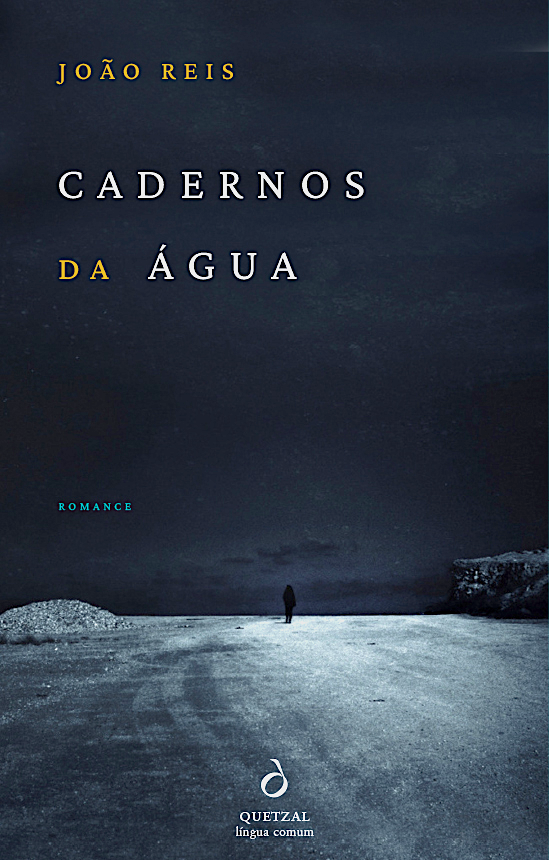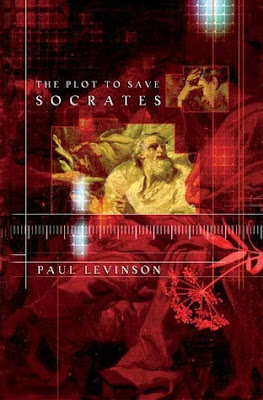Em 2016 li
"Dark Matter" (2016) de Blake Crouch, pouco depois de ver a sua primeira temporada de “Wayward Pines” que tinha adorado. Adorei "Dark Matter" não sendo dono de nenhuma escrita memorável, nem personagens muito estruturados, gostei pelo tema e o tratamento arrojado do mesmo, nomeadamente pela mescla do thriller e ciência. Quando percebi que Crouch tinha novo livro, e sobre memória, quis lê-lo imediatamente, queria voltar a sentir um page-turner, ainda mais em pleno verão. Assim que terminei o primeiro capítulo fiquei fascinado, "memórias falsas", ainda por cima tinha acabado de ler "
Memory Illusion (2016)". Mas à medida que fui entrando no livro, a admiração foi-se desvanecendo, aquilo que eu pensava ser a premissa, afinal não o era, e Crouch metia os pés pelas mãos a cada novo
twist narrativo. A meio do livro já só me apetecia jogá-lo pela janela fora, sentia que Crouch estava literalmente a gozar com os leitores, esperando que estes acreditassem nas suas mais fantasiosas teorias. Não quero ler um livro para sentir adrenalina de fugas, bombas e explosões, quero que a especulação científica tenha sustentabilidade e não seja mera decoração. Aqui a ciência torna-se uma palhaçada e interessa apenas o thriller, o espetacular, e um romance forçado de meia-tigela. Como cereja, tresandava a fórmula, a estrutura não se tinha movido uma linha da apresentada em "Dark Matter", e a cultura geral que preenche o mundo do livro continuava mundana, com os cenários construídos com base em meia-dúzia de blockbusters cinematográficos. Tudo muito fraco, conseguiu mesmo ultrapassar a minha anterior leitura (
"Sleeping Giants" (2016)) em falta de densidade. Mas falar mal sem explicar porquê, é também mau, por isso deixo algumas das ideias que me incomodaram, avisando para o
spoiling.
Criar uma máquina do tempo que funciona por meio de memórias humanas vívidas, que permite viajar até essas memórias, como se elas fossem bolhas de realidade compacta autónomas, mas nessa viagem, que acontece no tempo, não transporta apenas essa pessoa, mas transporta também as memórias do momento de todas as pessoas do planeta!!! Criar uma máquina do tempo que por mais saltos temporais que faça, mantém todas as pessoas sempre na mesma linha temporal, independentemente de quem está a viajar nas suas memórias!!! A história não tem qualquer suporte lógico, isto não é especulação científica, isto é mera brincadeira com ideias sobre as quais o autor denota uma total falta de conhecimento.
O livro começa com um ponto fundamental das ciências cognitivas — as memórias falsas — tendo tudo para ser uma história fantástica. Mas Crouch claramente percebeu que arriscava uma história pouco original, não faltam histórias a trabalhar memória no domínio da FC, nomeadamente Philip K. Dick ou Ursula K. LeGuin, muitos o têm feito, melhor ou pior. Por isso Crouch quis superar tudo e todos, para o fazer não deu qualquer rédea ao brincar com ideias, o que é bom se a seguir for trabalhado e delimitado, é preciso olhar para o resultado criativo da brincadeira e perceber se faz sentido, se vale a pena dar azo aos devaneios. Repare-se no rídiculo de conceitos elencados, Crouch abre o livro com o tema das Memórias Falsas, a seguir passa para o tratamento do Alzheimer, daí segue para a Máquina do Tempo, depois segue para os Multiversos Quânticos, acabando por chegar aos Buracos Negros para acabar por dizer que não sabe como é que a máquina do tempo (ficcional mas inventada por si para escrever um livro inteiro) funciona, colocando a personagem principal, a "maior cientista do planeta", a dizer que provavelmente “nunca o poderemos saber”!!!
Quanto à caracterização dos personagens, repare-se no tratamento feito: a personagem principal volta 30 anos atrás, até aos seus 16 anos de idade, 6 ou 7 vezes seguidas, ou seja, vive na pele mais de 150 anos repetidos — vai à escola, entra na universidade, faz exames, doutoramentos, namorados, lidar com pais, empregos, doenças etc. — mas essas vezes todas são passadas num parágrafo, como se fosse uma simples ida ao cinema à noite!!!! E como se isso não bastasse, chegado ao momento em que voltou atrás no tempo, ou seja em que iniciou a viagem voltando atrás, todas as pessoas à sua volta, sentem que a realidade se alterou, num espaço de momentos recebem o impacto de décadas e passam a conhecer outra vida inteira sem nunca a terem vivido, ao que se junta, muitas delas reviverem o impacto de uma suposta morte noutra linha temporal!!!!
O livro é uma autêntica fraude em termos cognitivos. Pegou em várias teorias, principalmente da física, da psicologia e neurociências não vi nada além de notícias de jornal, e aplicou-as diretamente à psicologia humana, como se a psique funcionasse do mesmo modo que o mundo material. Crouch demonstra profunda ignorância sobre a consciência humana, a subjetividade, o intrínseco e extrínseco. Mesmo o conceito de memória que deveria ter sido aprofundado, sai completamente maltratado, como se a memória não fossem interligações frágeis e sensíveis a alteração, mas antes super-estruturas dotadas de mapeamento cronológico e muito mais. Não existe aqui qualquer especulação, só mesmo absurdo.
Mas este é o meu ponto de vista. A olhar pelas estrelas que leva no Goodreads vai dar mais uma série Netflix de sucesso.
Deixo alguns excertos de reviews do Goodreads que dizem muito do que penso do livro:
Elisabeth A:
"As with his earlier novel, the premise and basic ideas explored are fascinating, but the writing isn't very good, the characters not well developed, and this story skims the surface of what should be thrilling material. "
"Scientists have been able to implant false memories in lab rats?!! That's the germ that this novel is based on. So many wonderful things to explore with that idea, so imagine my disappointment."
Daniel Kincaid:
"At first- you have a machine (a chair... A CHAIR!) that is supposed to help people with Alzheimer to retrieve their memories so they won't lose it (But wait- if they already lose their sense of reality, how can that chair actually help them? I mean, it doesn't eradicate the disease...)
Then, the chair (!!!) turns into a machine that is used to pump drugs into your system with the combination of some kind of hypnosis (I say some kind because Crouch changes the use of the machine every other page), then kills you (yet, somehow you're not really dead... go figure), and makes you believe, and relieve, your memories. Actually puts you inside of them and let's you play with them and do whatever you want. Okay.
And then- without any explanation, this machine turns into a time machine... Yup, people. A FUCKING TIME MACHINE! How did that happen? How did they achieve that? How can making one believe in a memory and making one relieving it, can actually send you back in time???
Do you have an answer? Some sort of logical explanation to this scientific miracle?
That's okay if you don't, because apparently, Crouch doesn't have one either.
But, what he actually does, is to abuse this plot-device into infinity and beyond. Someone close you gets mortally wounded or dies?! Your plan doesn't work the first time?! Fear not, my friends, because we will use the Chair-Memory Thingy-Time Machine to reset the events as much as needed. EVERY. SINGLE. FUCKING. TIME. To infinity and beyond, for all eternity.
Again, seriously- How can one author be so lazy???"
Manuel Antão:
"Book reviews used to help the reader to judge a good book but now they all seem to be written by authors with the same publisher and so are usually glowing summaries of the story (or by your run-of-the-mill book reviewers). Critical analysis no longer comes into it, the aim is to sell as many books as possible, be it rubbish or not."
Cate:
"I had to open all my windows to clear out the stink of this book. I was looking for a good summer read and had high hopes for this story. I was disappointed."
"Memories, timelines, time travel, it’s all very exciting. About 1/2 way through, I thought, gee Mr. Crouch, how are you going to get us out of all these plot tangles? I’m fascinated! Um, guns. Then bombs. Then guns and bombs. Zzzzzzzzz
Really? What about the science? What about the cool ideas of memories and how we are human bodies passing through time, and we don’t even know what time is! "
"Please, don’t waste your time"
Debbie:
"The opening scene is a killer (..) This book went from a 5 to a 4 to a 3 to a 2 (..) You’re supposed to be sad when a main character dies, it’s supposed to be a big deal. But in this book, who cares? You’ll probably see them alive in the next chapter! The characters die and get alive again so many times, it’s ridiculous."
"Usually, when the characters went back to the past, they remembered the future, which you might expect, right? But sometimes they got all scared and acted like they were clueless about what would happen next. Huh? Why were they scared when they knew the outcome? This just seemed like bad writing, and it bugged me to death."
Margaret:
"So sorry but no! I couldn’t cope with this one. Although what fascinated me in dark matter, is also here. The way to read sci fi , is to overlook any attempt to understand the «scientific explanation» and enjoy the ride. But unfortunately in recursion ,the impossibility is always there, the plot is confusing every step of the way and after the first half all this mess becomes boring."
Bart:
"Maybe he could have done better, but – like Hollywood blockbusters – Crouch clearly values tension & spectacle over logic. My guess is he doesn’t care about plot holes – and neither does his editor: shit like this sells, man! I wouldn’t have held that against Crouch – it’s everybody’s prerogative to aim for entertainment first – were it not for the fact that at the onset of the book he explicitly sneaks in some meta bits about solving puzzles, two times even. If you portray your story as a puzzle to solve, make sure the pieces fit."