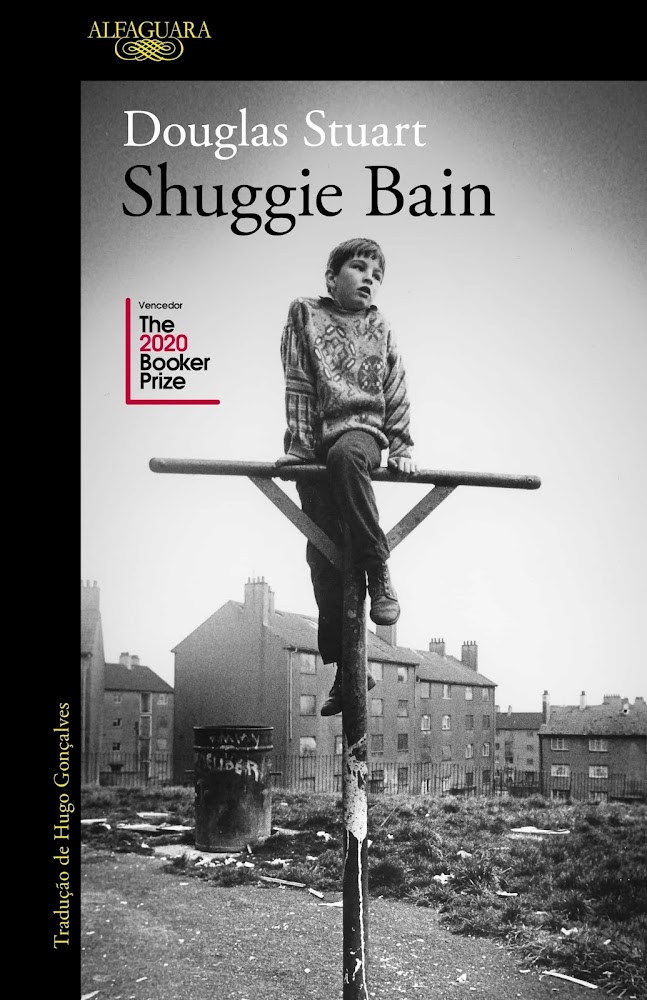“Wolf Hall” (2009) de Hillary Mantel, à semelhança de “Guerra e Paz” (1868) de Leo Tolstói, apresenta-se como ficção histórica, no sentido em que oferece primazia à criação de um mundo-história ficcional construído sobre alicerces de factos reais. O cenário escolhido por Mantel é o do reinado de Henry VIII, que ficou conhecido, além do divórcio com Catarina e o casamento, à revelia do Papa, com Anne Boleyn, por impor a Reforma Protestante em Inglaterra, terminando com a subjugação da coroa britânica a Roma, no século XVI. Iniciada na Alemanha por Lutero, a Reforma encontraria em Inglaterra dois rivais: Thomas More contra, Thomas Cromwell a favor. Mantel resolveu ir contra à corrente e criar o mundo de “Wolf Hall” a partir dos olhos da pessoa mais mal-amada, Thomas Cromwell, produzindo uma obra de grande relevo estético e interesse histórico. Este livro é apenas o primeiro volume de uma trilogia, mas podemos ver nele, desde já, uma forma de escrita única assim como uma representação bastante audaz da pessoa de Thomas Cromwell.

Thomas More e Thomas Cromwell, ambos pintados por Hans Holbein, o primeiro em 1527, o segundo em 1533
A Forma Escrita
Começando pela escrita, esta é não-linear, seguindo Joyce, Woolf ou Faulkner, mas não é fluxo de consciência, é algo que podemos aproximar mais de Lobo Antunes, no sentido em que o desenvolvimento narrativo se faz por cenas, aparentemente desligadas, que vão ganhando forma apenas à medida que vamos avançando e interligando as mesmas, como peças de puzzle, permitindo-nos reconstruir, mentalmente, e compreender o que nos está a ser apresentado.
Seria suficiente para elevar o patamar de exigência à leitura, mas Mantel introduz ainda variações no verbo da narração e no ponto de vista. Uma narrativa é uma história que aconteceu, é passado, mais ainda quando falamos de há 500 anos atrás, no entanto Mantel narra tudo no tempo presente. Não diz “ele fazia” ou “atravessaram o rio”, mas antes diz “ele faz” ou “estão a atravessar”. A isto junta o facto de na grande maioria das vezes em que se quer referir a Thomas Cromwell, que serve o nosso ponto de vista na terceira-pessoa, se lhe referir apenas como “Ele”, o que com múltiplos personagens em cena baralha qualquer leitor, a não ser que tenha em mente que o “Ele” é sempre, em 95% das vezes, Thomas Cromwell.
Diria assim que mais do que a não-linearidade, é a ação sempre no presente e a menção ao protagonista, quase encriptada, como “ele”, que tornam a leitura laboriosa. Mas por outro lado, é também essa forma verbal e a constante referência a “ele” que criam uma forma de contar única que confere ao texto um maior poder imersivo. Por um lado, o presente cola-nos ao momento da leitura, e prende a nossa atenção perante algo que está a acontecer ali e agora, enquanto o “ele”, cria a sensação de estar sempre presente, ao pé de nós.
Claro que para o aumento de imersão, ou de engajamento, contribui a dificuldade da leitura e isso é algo que a própria não-linearidade procura fazer. Os vários estudos que têm sido realizados dão conta de maior memorização e atenção das pessoas ao que é dito quando o texto é mais difícil de ler ou de compreender. A razão prende-se com a necessidade de despender mais energia na descodificação o que acaba por tornar o momento mais envolvente e ao mesmo tempo mais fácil de registar na memória.
O Olhar de Thomas Cromwell
É inevitável começar por ligar a profissão de Cromwell com a inicial de Mantel, ambos advogados, uma profissão ligada à litigação, ao lidar com as palavras e os múltiplos sentidos dados pelas pessoas, algo que fica bem presente no seguinte excerto:
“When you are writing laws you are testing words to find their utmost power. Like spells, they have to make things happen in the real world, and like spells, they only work if people believe in them.”
Mas mais importante do que isso é o facto de Thomas Cromwell ter nascido como um pobre e desconhecido, e desde essa condição ter chegado, sozinho, ao cargo mais poderoso do país. Um verdadeiro “self-made man”, um hino à meritocracia. Cromwell aprendeu muito, enquanto jovem, percorrendo metade da Europa. Tornou-se advogado, contabilista, poliglota e era dono de uma memória invejável, como se resume a determinada altura:
“It is said he knows by heart the entire New Testament in Latin, and so as a servant of the cardinal is apt – ready with a text if abbots flounder. His speech is low and rapid, his manner assured; he is at home in courtroom or waterfront, bishop's palace or inn yard. He can draft a contract, train a falcon, draw a map, stop a street fight, furnish a house and fix a jury. He will quote you a nice point in the old authors, from Plato to Plautus and back again. He knows new poetry, and can say it in Italian. He works all hours, first up and last to bed.”
Cromwell foi um polimata, um renascentista, alguém extremamente dotado com múltiplas competências, só assim se explica que tenha conseguido elevar-se numa hierarquia na qual o sangue tudo determinava. Se não tinhas brasão de família, não existias, simplesmente era impossível ser-se considerado para o que quer que fosse. No entanto Cromwell conseguiu tornar-se no homem mais temido de toda a Inglaterra. A sua capacidade para persuadir os outros a fazerem o que pretendia era infindável, e não se fazia de meras palavras, mas de um conjunto de estratégias de comunicação, verbais e não verbais, assim como de silêncios, ações e inações. Cromwell era aquele que tudo observava, compreendia, calculava e exprimia. A sua visão do mundo era como a de um jogador de xadrez, sempre em jogo.
“One of the things I’m really exploring is the universal question of what’s luck? What’s fate? Does anybody make their own luck? How far can you write your own story? And he’s someone whose whole career ought not to be possible. But at some point in early middle age, he just grabs the pen and starts writing it.” [Mantel em entrevista ao The Guardian, 22.2.2020]
Este modo de estar é o que explica a forma de escrita adotada por Hillary Mantel. A não-linearidade e o tempo presente, não são meras decorações estéticas, a forma reflete a personalidade de Cromwell, alguém que era quase impossível de descodificar, alguém que estava sempre presente quando era preciso, alguém que nunca era o centro, mas era sempre “ele” que estava lá para o que fosse necessário. A memória e o conhecimento imensamente detalhado de todos e tudo, tornou-o numa peça central, primeiro para o cardeal Wolsey, e depois para o rei Henry VIII, era ele quem lhes valia, sendo muito mais do que um braço direito. Como disse Mantel em entrevista:
"I am interested in the fact that in this era, kingship is coming into its full glory, in England and elsewhere; kings are insisting on their godlike status, their divine appointment. But who really has the power? Increasingly, it’s not the man with the sceptre, it’s the man with the money bags.” [Mantel em entrevista à Historical Novel Society]
Por outro lado, a personalidade e a ação de Cromwell, tal como trabalhada por Mantel, abre todo um novo mundo de perspectivas, mostrando uma Inglaterra a caminho do humanismo, veja-se mais este excerto da entrevista:
“When we look at what connects that age with this, I am interested in Cromwell’s radicalism; in the tentative beginnings of the notion that the state might take a hand in creating employment, that the economic casualties of the system deserved practical help; that poverty has human causes and is preventable, rather than being a fate ordained by God. I am disturbed to think that we might be going backward in this regard, back to stigma and fatalism and complacency.” [Mantel em entrevista à Historical Novel Society]
A Rivalidade entre More e Cromwell
Se não bastasse o trabalho realizado por Mantel sobre Cromwell, o outro ponto historicamente inovador relaciona-se com a apresentação de Thomas More que é quem nos serve o climax deste primeiro volume. More é relembrado como o contrário de Cromwell, também advogado, mas um grande académico, respeitado por toda a universidade Europeia, autor de "Utopia" (1516). Dono de uma dignidade irrevogável, morreu como Sir, tendo sido canonizado em 1935, sendo hoje referenciado como Santo. Para o público em geral, o filme de 1966 "A Man for All Seasons" dá conta da importância da sua pessoa.
Contudo, o interessante da abordagem de Mantel é quase virar a leitura de ambos os Thomas, ao contrário. Mantel dá conta de atos terríveis cometidos por More, de verdadeira inquisição, com a defesa e aplicação de tortura e fogueiras de hereges para todos os que decidissem abraçar a Reforma Protestante. No fundo, a grande questão desta obra está longe de ser o divórcio e a concubina, mas é antes a Igreja, Inglaterra e o humanismo. A humanização da vida pública que deixa para trás os misticismos religiosos. Repare-se como Mantel dá conta das acusações a Cromwell de que ele teria destruído os grandes mosteiros e conventos ingleses:
"‘If you ask me about the monks, I speak from experience, not prejudice, and though I have no doubt that some foundations are well governed, my experience has been of waste and corruption. May I suggest to Your Majesty that, if you wish to see a parade of the seven deadly sins, you do not organise a masque at court but call without notice at a monastery? I have seen monks who live like great lords, on the offerings of poor people who would rather buy a blessing than buy bread, and that is not Christian conduct. Nor do I take the monasteries to be the repositories of learning some believe they are. Was Grocyn a monk, or Colet, or Linacre, or any of our great scholars? They were university men. The monks take in children and use them as servants, they don't even teach them dog Latin. I don't grudge them some bodily comforts. It cannot always be Lent. What I cannot stomach is hypocrisy, fraud, idleness – their worn-out relics, their threadbare worship, and their lack of invention. When did anything good last come from a monastery? They do not invent, they only repeat, and what they repeat is corrupt. For hundreds of years the monks have held the pen, and what they have written is what we take to be our history, but I do not believe it really is. I believe they have suppressed the history they don't like, and written one that is favourable to Rome.’"
A questão que move Cromwell não é teológica, saber se Deus existe ou não, se o Papa está investido de poderes divinos ou não. Cromwell não foi um académico, era advogado e contabilista. Mais, ele era um self-made man, alguém vindo do nada, ciente do que esse nada representava. O que o movia era conseguir obter mais e melhor, mas não apenas para si. Cromwell ajuda imensas pessoas, financeiramente e de muitas outras formas. Cromwell traz para casa crianças que perderam os pais, ou que se encontram abandonadas, mulheres perdidas, dá-lhes um teto, não para as explorar, mas para as fazer florescer, como diz a certa altura:
“You learn nothing about men by snubbing them and crushing their pride. You must ask them what it is they can do in this world, that they alone can do.”
Cromwell fez isto porque apreendeu o mundo que habitava como ninguém, compreendeu que o mundo era muito mais do que aquilo que a Igreja queria vender, ou que a cor do sangue corrente nas veias era igual para todos. Cromwell elevou-se ao compreender que aquilo que fazia mexer o mundo era algo muito mais direto e efetivo do que o sangue ou a espiritualidade, como faz neste excerto:
“‘They are my tenants, it is their duty to fight.’
But my lord, they need supply, they need provision, they need arms, they need walls and forts in good repair. If you cannot ensure these things you are worse than useless. The king will take your title away, and your land, and your castles, and give them to someone who will do the job you cannot.’
‘He will not. He respects all ancient titles. All ancient rights.’
‘Then let's say I will. Let's say I will rip your life apart. Me and my banker friends.
How can he explain that to him?’
'The world is not run from where he thinks. Not from his border fortresses, not even from Whitehall. The world is run from Antwerp, from Florence, from places he has never imagined; from Lisbon, from where the ships with sails of silk drift west and are burned up in the sun. Not from castle walls, but from counting houses, not by the call of the bugle but by the click of the abacus, not by the grate and click of the mechanism of the gun but by the scrape of the pen on the page of the promissory note that pays for the gun and the gunsmith and the powder and shot.'”
Claro que toda esta visão magnânima de Cromwell faz levantar muitas dúvidas, e alguns estudiosos referem mesmo que comporta falsidade. Numa entrevista ao The Guardian, John Guy, um dos mais reputados historiadores da época dos Tudor, ataca Mantel, aceitando as suas qualidades como escritora mas desprezando a visão histórica por si apresentada. Para John Guy, Mantel deixou-se levar por relatos sem credibilidade, de pessoas que tinham interesses e não diziam a verdade, mas apenas o que lhes interessava. Por outro lado, se ouvirmos outros académicos, como Diarmaid MacCulloch, vamos perceber o quão certa Mantel pode estar. Na verdade, Mantel não é historiadora, nem se assume enquanto tal, mas se existe algo que este seu livro demonstra é o modo como a monarquia e o Estado funcionavam, a política sem si, o quanto era decidido por jogadas assentes na mentira, bluff e suborno, e o quanto tudo isso faz parecer tudo uma grande ilusão, com o sentido da verdade a esfumanr-se.
Sendo a leitura laboriosa, deixo algumas ligações que ajudarão a preparar a mesma:
. The World of Wolf Hall, A reading guide to Hilary Mantel’s Wolf Hall and Bring Up the Bodies, 2020
. A Man for All Seasons, 1966, de Fred Zinnemann (trailer)
. The Other Boleyn Girl, livro de Philippa Gregory 2001 ou filme 2008 com Natalie Portman e Scarlett Johansson (trailer).
. Thomas Cromwell, Thomas More e Henry VIII
. Reforma protestante
. A BBC fez uma série (2015) a partir do livro, pode valer a pena ver no final.
Nota: texto usado no original, em inglês, por facilidade de transcrição. Lido na versão portuguesa, da Editora Civilização.