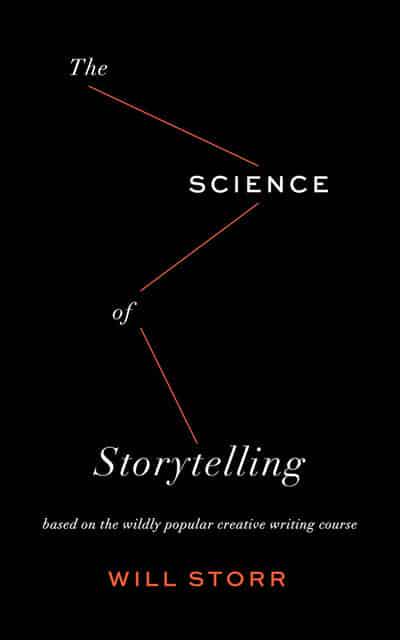Capa da primeira edição que dá conta dos cenários esotéricos criados por Fowles
Cheguei a este livro por meio de pesquisas por livros que fazem uso de condições de jogo no desenho da narrativa. A partir daí, os resultados das resenhas que li davam conta de um livro de grande interesse, capaz de surpreender e apresentar grandes respostas, um livro que torce a mente do leitor e o deixa a refletir. Por outro lado, conhecia o autor pela sua obra mais famosa “O Colecionador”, que ainda não li. Confesso, que logo nas primeiras páginas fiquei completamente agarrado pelo estilo de escrita. Muito direta, clara e simultaneamente misteriosa. Fowles escreve de uma forma aparentemente simples, parecendo que está a relatar a maior banalidade, contudo ao fazê-lo vai omitindo imenso sobre o que se está a passar, e são essas omissões que agarram a nossa imaginação, que nos prendem ali, para tentar a partir das linhas e páginas subsequentes descortinar totalmente o que está a acontecer. Contudo, ao fim de 1/3 comecei a sentir algum cansaço, apesar da escrita me manter ali, o motivo daquele universo parecia não mexer para lado nenhum, mas mantive-me porque das resenhas que tinha lido, era relatado isto mesmo, e fortemente aconselhado a continuar a leitura até ao final, o que acabei fazendo, apesar da extensão do livro.
Depois de terminar, dei por mim a questionar-me sobre o que tinha acabado de ler. Tudo o que foi sendo apresentado, foi sucessivamente questionado pelo texto e reapresentado sob outras perspetivas e possibilidades. Confesso que é difícil, e mesmo chato continuar a escrever sem tornar o enredo um pouco mais claro, além de que tal acaba por apenas contribuir para o modo misterioso como escreve o autor, e assim incitar a que se vá ler. Por isso ter acontecido comigo, vou tentar ser um pouco mais claro, sem contudo revelar essências da história.
Assim, contextualizando, os acontecimentos centrais dão-se numa ilha grega, quando o nosso protagonista, britânico solteiro e formado em Oxford, vai trabalhar para um colégio tipo inglês nessa ilha. Nicholas Urfe, o nosso jovem professor, encontra alguns concidadãos a viver na ilha, trava amizade com eles, a partir do que vão surgir um conjunto de eventos esotéricos que envolvem pessoas que aparecem e desaparecem, hipnotismos, seduções imersas no luxo, mas tudo isso vai sendo simultaneamente envolvido em grandes doses de racionalização e argumentação e até alguma ciência. Ou seja, Fowles cria um universo perfeitamente paradoxal, no qual pode exercer o seu total controlo para manipular o leitor, e levá-lo a acreditar em coisas diferentes, no virar de cada novo capítulo. Daí que o autor tenha tido como nome inicial para o livro, "Godgame". Ao longo do livro, somos continuamente postos a prova, desconfiamos de tudo, não sabemos a razão de nada, e chegado ao final do livro continuamos sem nada saber.
Posso dizer que ainda investi algum tempo a tentar dar conta da grande ideia ou mensagem que Fowles tinha para passar, mas rapidamente desisti, pois percebi que era uma miragem. Fowles escreveu este livro como experimento de escrita, tanto que não o publicou imediatamente, só depois de publicar um primeiro livro de contos. O livro decalca muito de perto a vida de Fowles, dando conta da dificuldade do autor em se desprender do seu mundo, tendo usado a escrita como modeladora de experiências, o que acaba a confundir-se com o próprio livro, e provavelmente sem se aperceber, acaba por tornar o livro algo distinto. Ou seja, no livro temos um grupo de pessoas que geram experiências e colocam as pessoas à prova, neste caso, Fowles cria o livro para colocar o leitor à prova. Desta forma, o livro torna-se relevante no meio literário não pelo que tem para dizer, mas antes pelo modo como simula no processo de leitura, exatamente a experiência que vai descrevendo. Por isso não admira que o livro surja por vezes citado como meta-ficção, apesar dessa poder apenas ser realizada na imaginação do leitor.
Em suma, é uma leitura prazeirosa, mas não posso dizer que surpreenda, ou seja capaz de elevar a experiência a níveis de espanto. Sim, mantem-nos às escuras e cria em nós uma vontade de chegar “à verdade”, mas ao mesmo tempo denota em excesso as manias dos anos 1960, dos esoterismos e psicanálise aos transcendentalismos. Por isso mesmo acaba denotando um certo pendor adolescente, pouco interessado em produzir um cenário mais sólido e ligado à realidade. Contudo, esta seria sempre a abordagem de Fowles nos seus romances, como ele diria nas entrevistas, já que ele não acreditava na ficção como algo indicado ao relato de ideias sérias. Aliás, ele diria mesmo sobre este livro em concreto: "It must remain a novel of adolescence, written by a retarded adolescent" (1977). Apesar disso, disse também algo que me deixou a refletir, nomeadamente sobre o seu percurso enquanto escritor:
“No one in my family had any literary interests or skills at all. I seemed to come from nowhere. I didn't really have a happy childhood. What bored me about my mother was her lack of taste. My father's great fault was that he hated France from his experiences in the war, at Ypres. And he liked Germany. We had a geographical falling out. I deviated at the wrong branch of European culture. When I was a young boy my parents were always laughing at "the fellow who couldn't draw" - Picasso. Their crassness horrified me.” (1977)