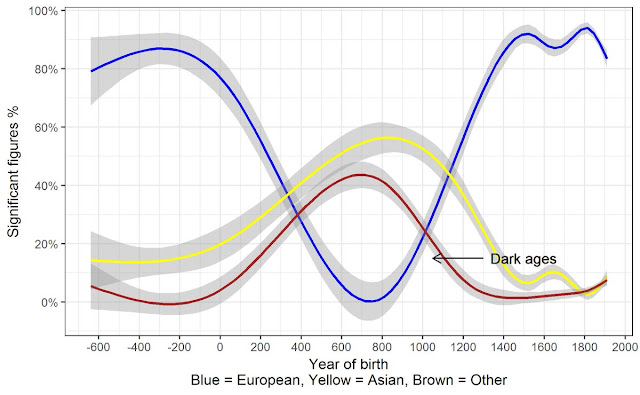“
De Rerum Natura” é a obra-prima do poeta-filósofo Tito Lucrécio Caro (94-55 a.C). Se quiserem saber mais sobre a história e relevância deste texto que quase se perdeu nos meandros das parcas bibliotecas da Idade Média, aconselho vivamente a leitura de
“The Swerve: How the World Became Modern” (2011) de Stephen Greenblatt. Mas se foi por meio de Greenblatt que me iniciei na leitura de Lucrécio, a quem agradeço, foi por meio da belíssima
tradução de Agostinho da Silva (1962), para prosa em português, que cheguei ao conhecimento das palavras e pensamento de Lucrécio. Dizer ainda que se a obra se apresenta como poema, ele é mais porque é também ensaio, não apenas filosófico, mas também científico, e por isso não admira todo o ardor que
Montaigne sentia por Lucrécio, explicando também o facto de se ter passado a designar a obra como poema-didático. Em suma, podemos dizer que a obra de Lucrécio é talvez o primeiro trabalho de sempre de Comunicação de Ciência. Mais do que filosofar, argumentar ou calcular, Lucrécio estava focado em dar a conhecer as ideias dos seus mestres — Demócrito (460-370 a.C.) e Epicuro (341-270 a.C.) — não se tendo poupado em esforços de comunicação, nomeadamente de persuasão, o que explicará o facto de ter sido escrito em verso.

Para além do impacto desta obra nas ideias dos períodos da Renascença e do Iluminismo, discutido por Greenblatt, é talvez ainda mais importante, porque responsável por esse impacto, o facto de ser o meio que permitiu que o pensamento de Demócrito e Epicuro tivesse chegado até nós. Ambos os pensadores são hoje imensamente reconhecidos no modo como anteciparam uma visão do mundo pós-religião, humanista, centrado no pensamento científico, nomeadamente pelo atomismo e o materialismo. Contudo, a maior parte dos seus escritos perderam-se, tendo restado o trabalho de Lucrécio como portador. Antes de avançar sobre o livro em si, a escrita e estrutura, devo realizar uma breve discussão destas correntes de pensamento, não apenas por serem o núcleo do poema de Lucrécio, mas por serem o núcleo daquilo que hoje assumimos como modo humanista de compreender o mundo que nos rodeia.
Comecemos por compreender que Demócrito estava nas antípodas de muitos dos que se dedicavam a compreender a realidade, entre os quais, Platão e Aristóteles. Para estes últimos, a realidade requeria explicações, sentido e significado. O mundo não poderia simplesmente existir, não se pode ser sem um propósito, uma razão ou uma causa última. Daí que os Deuses nunca tenham abandonado o Olimpo, nem Roma, tendo apenas se
monoteisado e aguardado quase dois milénios para que a ciência os começasse a retirar da equação. Vale a pena releitura de
“História da Filosofia Ocidental” (1945) de Russell.
Demócrito defendia um mundo constituído por pequenas e indivisíveis partículas, a que deu o nome de átomos. Nestes residiria a componente última e explicativa da realidade. Não adianta procurar além do mundo físico, pelo menos sem antes compreender esse mundo. Neste sentido, Demócrito propõe o materialismo por meio do mecanicismo, questionando: que causas dão origem a cada evento? Se nos centrarmos em saber como acontecem as coisas, como estão interligadas, e compreendermos como a sua interdependência faz o mundo avançar, deixaremos de procurar causas externas sem qualquer sustentação empírica.
Claro que podemos sempre questionar: porquê átomos indivisíveis? E é aqui que Lucrécio faz a sua melhor investida, oferecendo uma argumentação sólida na defesa do atomismo de Demócrito, sustentado no materialismo de Epicuro. Assim, temos que tudo no mundo se desmorona, tudo decai, nem mesmo as pedras mais duras resistem à força da erosão da água e da passagem do tempo. As coisas tendem a misturar-se, tal como acontece com a lama que surge da mistura entre terra com água, que depois nos garante os adobes e tijolos, até que tudo volta a desintegrar-se. No entanto, tudo aquilo que se desintegra tende a dar novamente origem a coisas iguais a si. Existe um ciclo que se mantém inalterado, de decadência e renascimento, que contrasta com a expectável ideia de tudo decair no tempo até ao infinito. Porque não temos um universo constituído por mero caldo de grãos? Para Lucrécio, porque coisas nascem de outras iguais a si, tal qual sementes, as coisas possuem em si determinadas configurações capazes de oferecer futuras e concretas estruturas. São essas configurações últimas, não divisíveis que preservam a ordem da realidade, e permitem que esta se mantenha em pé. De certo modo, Lucrécio antecipava aqui as propriedades químicas, ou aquilo que hoje aceitamos como Tabela Periódica de elementos químicos. Lucrécio discute ainda a necessidade do vazio, ou seja, a existência de espaço entre átomos que garantiria diferentes uniões entre os mesmos e proporcionaria a criação de infinita variação, oferecendo o sólido, mas também o fluído o e o gasoso. Do mesmo modo, oferecia, por via da teoria da declinação (declínio na trajetória dos átomos entre colisões) a impossibilidade da permanência das condições de geração do totalmente igual ou idêntico ao anterior, explicando a incerteza e o livre-arbítrio do elementos, do ser-humano e do universo.
Repare-se como tudo isto suporta o materialismo, que nada tem que ver com as ideias que os antagonistas, na generalidade religiosos, continuam a colar-lhe do hedonismo. Ser materialista, nada tem que ver com o desejo de coisas. O materialismo conduz-se pela simples crença nas coisas enquanto entidades próprias, sem explicações exteriores. Por esta razão o epicurismo defende a procura pela satisfação do prazer, como modo de dar resposta à condição natural dessas coisas. Para o efeito, Lucrécio convoca então o estoicismo, juntando dois sistemas de pensamento, que para muitos parecem inconciliáveis, para criar as bases do que viria a ser o Humanismo (ver
“Sapiens” de Harari). Ou seja, o materialismo funciona com base na virtude, o seguimento das leis naturais, que segundo Lucrécio seriam providenciadas por uma Vénus, deusa do Amor, que guia o sentido daquilo que somos enquanto parte da natureza. Buscamos o prazer, não pelo prazer, mas pelo amor pelo outro, para que da nossa semente, nova semente continue aquilo que somos. É esta combinação teórica que permite a Lucrécio tornar a alma material, perecível, defender que depois de morrer nada mais há, deixamos de existir, restando-nos aqueles que ficam, aqueles que deixamos. Lucrécio mata assim o medo da morte que suportava, e suporta ainda, o grande fundamento das religiões no agrilhoar da liberdade do Ser, e prepara o terreno para Darwin.
À esquerda, a edição da Globo de 1962, traduzida por Agostinho da Silva, em prosa. À direita, a edição da Relógio d'Água de 2015, traduzida por Manuel Cerqueira, em verso e bilingue.
Sobre a escrita e mesmo o conteúdo, é preciso ter em atenção que tem mais de dois mil anos, e muito do que se escreve e modo como se escreve está bastante ultrapassado. Não estamos a ler um livro de divulgação científica de hoje, nem sequer do século passado. A nossa admiração faz-se mais pela sua relevância histórica, pela visão e antecipação, e acima de tudo pela liberdade de espírito na concepção de ideias desligadas do poder vigente. Não foi por mero acaso que o livro quase "se perdeu" durante 1500 anos. Por outro lado, como diz Greenblatt no final da sua obra de homenagem a Lucrécio, o trabalho deste foi concluído, os seus escritos deram frutos, os seus sucessores criaram todo um novo mundo, as ideias deram novas ideias, o seu livro foi ultrapassado e pode agora regressar a meros átomos.
Para finalizar. O livro está dividido em seis grandes capítulos, denominados de Livros, que
alguns estudiosos intitulam da seguinte forma :
- Os constituintes permanentes do universo: átomos e vazio
- Como os átomos explicam os fenómenos
- A natureza e mortalidade da alma
- Fenómenos da alma
- O cosmos e a sua mortalidade
- Fenómenos cósmicos
Desta listagem facilmente se depreendem três grandes partes — os átomos; a alma; e o Cosmos — que por sua vez se dividem entre dois grandes focos ou abordagens: o que lhes dá vida e o que os conduz à morte. Tudo é feito de vida e morte, constituindo o ciclo que sustenta tudo aquilo que somos, aquilo que nos dá vida, e aquilo que constitui o Universo.