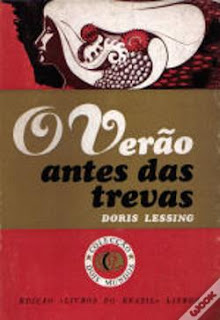O tema está na agenda nacional o que é ótimo, quanto mais se falar e discutir mais poderemos criar conhecimento sobre o que representa, sobre os seus problemas, efeitos e limitações. O assunto é complexo, mexe com estruturas civilizacionais ancoradas em milhares de anos de evolução e por isso não podemos ter ilusões de que se possa mudar tudo em meio século, menos ainda num par de semanas. Vamos precisar de continuar a conversar, a estudar, e a desenvolver mais e melhores argumentos que elucidem as dúvidas de cada um. Se em Portugal a discussão se faz por causa de
cadernos de atividades para crianças, nos EUA faz-se porque um empregado da Google escreveu um "
Manifesto Anti-Diversidade", enquanto no meio online mais subterrâneo se digladiam movimentos, com enorme poder, como o chamado
Gamergate.
Nesta composição podemos ver a expressão do modelo social que vingou na nossa espécie até há pouco tempo, e que a evolução dos tecidos sociais veio questionar.
A igualdade de género é uma abordagem sociológica, ou seja, baseia-se na análise dos modos de funcionamento das sociedades, procurando compreender porque funcionam da forma como funcionam, no sentido de contribuir para o seu auto-conhecimento, com o que se espera poder otimizar o funcionamento dessa sociedade. Uma das maiores confusões sobre os objetivos desta abordagem e que cria grande ceticismo e reticência em muitas discussões é o facto de se assumir que aqui se defende que os géneros são iguais, o que é um erro. A abordagem, por ser sociológica, trata do modo de funcionamento dos géneros em sociedade, não trata da fisiologia dos géneros. Ou seja, apesar do chapéu criado para englobar a discussão parecer indicar que se procura tornar os géneros iguais, o que é preciso saber, e aquilo porque se luta, é que os géneros tenham um tratamento igual pela sociedade:
que nenhum ser humano seja tratado diferente por ser Mulher ou por ser Homem.
Ora para isto não basta criar um par de leis que defendam os mesmos direitos para homens e mulheres. As leis são emanadas da sociedade e se esta não acreditar, de forma generalizada, naquilo que essas leis defendem, dificilmente estas poderão ter efeito prático. Assim, mais importante do que criar leis é a formação e educação da sociedade, mas para isso também não basta criar umas cadeiras na universidade que discutam o assunto, é preciso que o tema seja debatido em sociedade, que as pessoas não tenham receio de falar sobre o mesmo, e mais importante, não tenham pudor em mudar de opinião.
Esta questão não tem meia-dúzia de anos, faz parte de nós desde que surgimos como espécie, desde que iniciámos a partilha de esforço e responsabilidades, precisando de homens e mulheres para progredir na conquista por mais e melhores condições. Se a sociologia estuda os comportamentos da sociedade atual, não o pode fazer no vazio, ou arredada do outro conhecimento existente sobre o ser humano, nomeadamente a biologia, as neurociências e em especial a psicologia evolucionária.
Psicologia que procura descrever o comportamento humano com base nas funções biológicas e genéticas
Dito isto, e assumindo todo o conhecimento científico que possuímos, temos de compreender que a modelação social dos géneros, Homem e Mulher, não é determinada apenas pela diferença dos órgãos reprodutores, o chamado sexo, o pénis e a vagina. Em termos sociais, ou seja do modo como nos relacionamos uns com os outros, mais importante do que o sexo são as hormonas que correm na nossa corrente sanguínea, nomeadamente a percentagem de duas em especial: a Testosterona e a Ocitocina.
A ciência diz-nos que a testosterona contribui para a formação de corpos mais robustos e ao mesmo tempo de comportamentos baseados na ação, no risco e no desapego. Por outro lado, a ocitocina contribui para tornar os corpos mais relaxados o que leva a criação de comportamentos mais passivos, de recato e apego. O facto de, em média, a testosterona estar mais presente nos homens, faz com que se associem os comportamento por ela incitados ao comportamento social másculo. Acontece o mesmo com a ocitocina que está, em média, mais presente nas mulheres, fazendo com que aqueles comportamentos ofereçam uma espécie de norma feminina.

O excesso de Testosterona conduz ao autismo, pelo sub-desenvolvimento da cognição social, sendo o autismo mais prevalente nos homens. O excesso de Ocitocina conduz a desordens bipolares e depressão, pelo super-desenvolvimento da cognição social, sendo estas patologias mais prevalentes nas mulheres. (Gráfico por Bernard Crespi, "Oxytocin, testosterone, and human social cognition" (2015), in Biological Reviews)
O primeiro problema a reconhecer, surge com o facto da sociedade se deixar conduzir pela força das hormonas, ao atribuir papéis aos géneros apenas em função de médias. Ou seja, só em média é que os homens têm mais testosterona, e as mulheres mais ocitocina, fora da média temos homens com mais ocitocina, e mulheres com mais testosterona. Para esses casos a sociedade arranjou novos rótulos, são as "maria rapaz", e os "afeminados", sem contudo deixar de exercer o seu poder de grupo para torcer estes sujeitos que não se encaixam bem na norma.
O segundo problema é não percebermos que a origem desta divisão da presença de quantidades das diferentes hormonas nos corpos do homem e da mulher, não é mero fruto da natureza. A testosterona não é produzida pelo pénis, nem a ocitocina pela vagina. A divisão decorre de um processo de seleção sexual, ocorrido ao longo de milhares de anos. Ou seja, tendo em conta as condições de vida na nossa pré-história, os grupos de humanos que sobreviveram e se tornaram dominantes foram os detentores desta divisão hormonal: homens dotados de muita testosterona e mulheres de muita ocitocina. Ou seja, os homens com corpos robustos, caçavam e protegiam, saíam para a caça porque não tinham medo do desconhecido, nem tinham um apego tal às crias que os impedisse de sair em busca de comida. Claro que estes homens só tiveram sucesso porque ao seu lado tiveram mulheres carregadas de ocitocina, que com medo do risco nunca abandonavam o lar, ao mesmo tempo que o seu forte apego as conduzia a dar tudo pelas crias, mesmo quando os homens desapareciam por muito tempo. Ou seja, a dupla teve de coexistir, e este padrão foi vencedor na luta interna da nossa espécie.

Joana d'Arc (1412-1431) foi queimada viva, aos 19 anos, por não se adequar aos estereótipos do século em que viveu.
Assim, as mulheres que nasciam com doses maiores de testosterona, que desejavam ir guerrear e não queriam saber de crias, eram votadas ao desprezo pelos homens, por isso reproduziam-se menos. Os homens que nasciam com maiores níveis de ocitocina, que queriam ficar nas grutas a tomar conta dos outros, ou a tornar o espaço mais aprazível, eram vistos como incapazes de oferecer um futuro sustentável às mulheres que os preteriam, reduzindo a sua possibilidade de passar os seus genes. A natureza oferecia diferentes possibilidades de comportamento, mas coube sempre à cultura escolher quais privilegiar.
Os homens que queriam ficar nas grutas a tomar conta das crianças ou dos mais velhos, ou a tornar o espaço mais aprazível, eram vistos como fracos.
Mas o mundo muda, e mudou muito com o surgimento da agricultura, das civilizações, da ciência, e claro da Revolução Industrial. A agricultura fez desaparecer a necessidade de ir à procura de comida, e com isso trouxe as civilizações, juntando pessoas num mesmo espaço, obrigando à criação de regras de funcionamento, transformadas depois em leis, com direito a justiça, tribunais e polícia. O medo do desconhecido reduziu-se, passámos a viver em ambientes mais controlados, com deveres mas também com direitos. Depois a ciência ajudou-nos a compreender melhor o mundo, reduzindo ainda mais o medo, permitindo uma explosão criativa que nos levaria até à motorização do mundo, e mais recentemente a sua digitalização. A partir da motorização, ainda que sendo um processo iniciado já com a agricultura e domesticação de animais, a força muscular deixaria de ser a eleita, cedendo o lugar à força intelectual.
Os papéis que os nossos antepassados se tinham habituado a ver como essenciais para a sua sobrevivência deixariam de fazer sentido. O homem já não tem de ser alguém sem apego pelas crias, para conseguir sair em busca de comida, a agricultura trouxe a comida até ao seu quintal, e ele pode estar muito mais tempo com as crias. O homem já não tem ser mau e forte para afastar os outros que lhe querem roubar a riqueza e as crias, a polícia e a justiça fazem isso por ele. O homem já não tem de ser alguém robusto e ativo, pode trabalhar 8 horas sentado numa cadeira.
Do mesmo modo, a mulher já não tem ser recatada e submissa ao homem, não precisa da sua proteção, a sociedade — na forma de leis, justiça e polícia — assumiu a sua defesa como ser humano individual, independente do seu sexo, ainda que continue a apresentar muitos problemas, nomeadamente na resposta à violência doméstica. A mulher pode ser menos apegada às crias, porque passou a partilhar a responsabilidade de as criar com o homem com quem vive. Com isto não se está a defender, como erradamente defenderam algumas feministas, que as mulheres se tornem libertinas ou negligentes, porque isso seria defender uma troca dos papéis. Ou seja, não podemos defender que os homens abandonem papéis de desapego, e que por outro lado as mulheres adquiram esses papéis. O que está em jogo é as mulheres, em virtude de um apego exacerbado, não deixarem de viver as suas vidas, mas isso não deve conduzir a deixar de pensar na vida dos outros, principalmente das suas crias. Até porque nos dias de hoje, tendo a sociedade desenvolvido todo o tipo de suportes às crias desde bebés até quase à idade adulta — creches, jardins infantis, escolas, lares, ATLs, etc — não é preciso abandonar as crias para se poder ser independente.
Por outro lado, o facto de termos perpetuado a divisão de presença de hormonas nos homens e mulheres para além da sua necessidade pré-histórica, veio criar novos problemas nomeadamente ao nível do ensino, ou seja na nova sociedade assente no valor intelectual. Partindo de
alguns factos sobre Portugal, existem mais mulheres (52.6%) que homens (47,4%), e apesar de no passado as mulheres terem sido impedidas de estudar, por isso a população sem qualquer escolaridade ser constituída por 71,2% de mulheres, atualmente as mulheres dominam no Ensino Superior, com 60.9% dos formados a serem mulheres. A razão porque isto acontece não é por as mulheres serem mais inteligentes, mas antes porque os estereótipos, ou melhor, a hormona da ocitocina que origina o recato, submissão e apego, funciona melhor em relações de autoridade, como é caracterizada a relação professor-aluno. As raparigas fazem o que os professores mandam, cumprem o que se lhes é pedido, demonstrando ter aprendido aquilo que o professor lhes ensinou. Os rapazes tendem a correr mais riscos, logo a desobedecer e a tentar fazer como lhes dá mais prazer, indo contra as expectativas do professor, que vê isso como não aprendizagem.

As raparigas, dotadas de mais ocitocina, submetem-se ao que os professores exigem, cumprem o que se lhes é pedido, demonstrando ter aprendido aquilo que o professor lhes ensinou. Os rapazes, dotados de mais testosterona, tendem a correr mais riscos, logo a desobedecer e a fazer diferente, indo contra as expectativas do professor, que vê isso como não aprendizagem.
Se aparentemente as mulheres parecem estar a ganhar com os estereótipos hormonais do passado, isso não acontece em todas as frentes, nomeadamente não acontece nas Engenharias e Tecnologias, em que os homens dominam com 80% dos diplomados em Portugal. Mais uma vez a base deste desequilíbrio é hormonal, é a testosterona que contribui para ter rapazes sem medo do risco, sem medo de errar, a serem preferidos pela engenharia e tecnologia que desse tipo de abordagem depende. A engenharia e tecnologias não vivem tão centrados no conhecimento existente, como o Direito ou a Medicina, antes necessitam de estar constantemente a fazer diferente, partindo do que se sabe, mas essencialmente experimentando o desconhecido, em busca do que pode vir a funcionar. As mulheres não se dão tão bem com estes ambientes, não por serem mulheres, mas pelo excesso de ocitocina na sua corrente sanguínea, preferindo ambientes em que as matérias estão mais estabilizadas, em que o risco de erro é mais diminuto.

A testosterona facilita a navegação de mapas e labirintos, não por tornar os sujeitos mais inteligentes, mas por os dotar de menor resistência ao risco, menor medo de falhar, contribuindo para uma atitude de experimentação, avançando por tentativa e erro até conseguir o objetivo.
A luta pela presença de mais mulheres nas Tecnologias não se resolve atacando apenas o problema dentro das estruturas sociais que suportam as Tecnologias, é preciso ir à fonte do problema, aos ideais e estereótipos que regram toda a sociedade de modo quase invisível.
Em face de tudo isto, torna-se mais fácil compreender de onde vieram os estereótipos de género e compreender que servem apenas o perpetuar de ideias erróneas sobre aquilo que o Homem e a Mulher devem ser, inibindo homens e mulheres de serem aquilo que são ou pretendam ser, mas mais grave que isso, impondo direitos e deveres diferentes em função do simples facto de termos nascido homens ou mulheres. Repare-se como nada disto tem qualquer relação com o pénis ou a vagina, nem mesmo com um útero, ovários ou espermatozóides. Aliás, se os homens e mulheres não usassem roupas e adereços, completamente determinados pelos estereótipos sociais, na maior parte do tempo não saberíamos se a pessoa que está na nossa frente é Homem ou Mulher. Recorde-se a lenda da Papisa Joana e do seu suposto efeito, a criação de uma cadeira papal perfurada para avaliar os órgãos genitais antes da eleição.

Não passando de lenda, mas exatamente por se ter tornado numa lenda quase milenar, a Papisa Joana é apenas um dos muitos exemplos que dão conta do mau estar instalado no pensar da sociedade, que continua a perpetuar estereótipos de separação dos géneros.
Outros textos que sustentam a abordagem aqui apresentada:
A Ciência por detrás da Arte,, 2013
"Sapiens", porque Dominamos o planeta, 2017
"Homo Deus", de Yuval Noah Harari, 2017
O Gosto não Existe, 2017
O Cérebro (2015), 2016
Pensar Depressa e Devagar, 2013
Porque evoluímos tanto nos últimos 13,000 anos, 2013
A Ciência não é Crença é Conhecimento, 2017