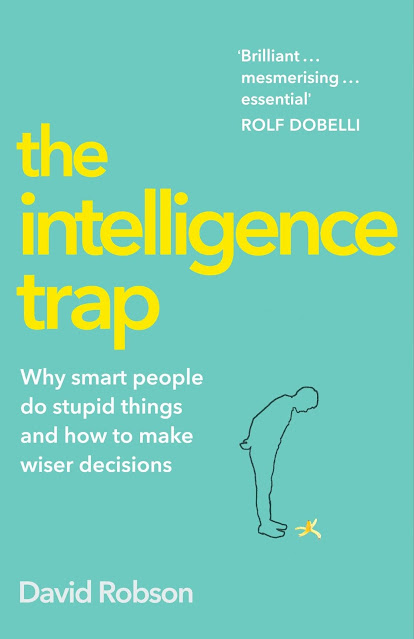A leitura deste terceiro volume — "O Espelho e a Luz" (2020) — foi um prazer imenso, tendo sentido a presença de Hilary Mantel sempre ali, no pé de cada página, como que construindo e abrindo caminho para o nosso deleite, com um texto dotado de imponente e virtuosa forma escrita, assim como de enorme detalhe histórico, garantindo a completa ressurreição de um passado esquecido. São três volumes, mas é um livro único, de 2000 páginas, que nos faz atravessar a vida de alguém que viveu como comum mortal no século XVI, conseguindo subir a pulso até ao topo do seu mundo, para terminar de forma brutal. A escrita, altamente elaborada, emana em si uma paixão enorme da autora por Thomas Cromwell, mas acima de tudo pelo trabalho que faz, corroborado pelas entrevistas que foi dando em que se percebe que viveu e respirou a obra durante todos estes anos. Termino a leitura da trilogia com grande admiração pela criadora, nomeadamente pelo engenho na construção criativa a partir de história deixada em meros relatos descritivos, esparsos e dispersos, assim como pelo investimento de 15 anos da sua vida na criação deste legado.

"Thomas Cromwell" (1534) por Hans Holbein e "Hilary Mantel" (2015) por Louise Weir
Em 2017 Mantel foi convidada pela BBC para criar um conjunto de lições, para as conceituadas Reith Lectures. O título escolhido por ela foi: "Resurrection: The Art And Craft", o que serve na perfeição para enquadrar o seu trabalho. Ao longo dessas cinco aulas, assim como das várias entrevistas, percebe-se que o objetivo de Mantel não é apenas escrever sobre um caso histórico, nem criar uma novela. Mantel objetiva mais alto, dizendo-se uma historiadora frustrada, acabou por tentar sê-lo na literatura, e de certa forma podemos dizer que o consegue. Esta trilogia, por ser novelizada, não pode ser vista como ato de historiar, no seu sentido académico, mas o trabalho e o resultado é de tal forma minucioso e colado à documentação histórica, que não se pode simplesmente ignorar. Isto é evidente na sua resposta à possibilidade de alterar factos históricos para intensificar o drama:
"I would never do that. I aim to make the fiction flexible so that it bends itself around the facts as we have them. Otherwise I don’t see the point. Nobody seems to understand that. Nobody seems to share my approach to historical fiction. I suppose if I have a maxim, it is that there isn’t any necessary conflict between good history and good drama. I know that history is not shapely, and I know the truth is often inconvenient and incoherent. It contains all sorts of superfluities. You could cut a much better shape if you were God, but as it is, I think the whole fascination and the skill is in working with those incoherencies." Mantel em entrevista na Paris Review, n. 212, Abril 2015
Por isso não admira a reação da academia britânica, nos anos recentes, com todo um revivalismo de livros e trabalhos à volta da pessoa de Thomas Cromwell, o que quer dizer que ela tocou em pontos chave do conhecimento histórico. No caso de Mantel, a historicidade serve apenas a verosimilhança, ela não está preocupada em ensinar como se passaram as coisas, ou definir com o máximo de certeza os elementos. Ela utiliza o conhecimento existente para de certo modo conseguir entrar pela história adentro e recuperar o sentir humano de quem viveu nesses tempos. A tal ideia de trazer de novo à vida as pessoas de um mundo anterior e dar-lhes voz. Mantel vê-se um pouco como uma "medium", um canal de ligação entre o passado, os seus fantasmas, e o mundo atual.
"The contradictions and the awkwardness—that’s what gives historical fiction its value. Finding a shape, rather than imposing a shape. And allowing the reader to live with the ambiguities. Thomas Cromwell is the character with whom that’s most essential. He’s almost a case study in ambiguity. There’s the Cromwell in popular history and the one in academic history, and they don’t make any contact really. What I have managed to do is bring the two camps together, so now there’s a new crop of Cromwell biographies, and they will range from the popular to the very authoritative and academic." Mantel em entrevista na Paris Review, n.212, Abril 2015
No fundo, podemos ver esta sua abordagem como um modo distinto de fazer História, por via da dramatização. Tal como na psicologia se usa o drama e o jogo de papéis para levar as pessoas a compreenderem-se melhor a si mesmas, julgo que a História pode usar da dramatização para conseguir chegar mais perto de quem fez o que é relatado nos registos. Porque os registos são na sua maioria listas, descrições, datas, quantidades, elementos soltos e dispersos. Claro que isso não é algo simples de fazer. Repare-se como ela descreve o processo:
"I was a bit surprised by my own process sometimes, because when you’re reading the historical record, I think you’re always looking for history in its purest form. You’re looking for inventories and lists, particularly lists of people’s possessions, and pages of account books, and the prices of things, because there’s no agenda behind those, so you can trust them in a sense.
And I suppose what surprised me quite early in the book was how those would come to life for me. What seems like just an item on a list, or the price of something in a column of figures, would spark off a whole train of thought." Mantel em entrevista, Glamour, March 2020
A académica, Mary Robertson, especialista em Thomas Cromwell, e a quem a trilogia é dedicada por Mantel, refere a sua admiração por esta forma concreta de ir além na produção de conhecimento:
“In some ways it takes a greater skill to work with everything that is known—and from that add your imagination to craft a convincing story—than it does just to make it up.” Mary Robertson no The Huntington, October 2012
Algo que não deixa de ser secundado pelo crítico do NYT, James Wood:
"If you want to know what novelistic intelligence is, you might compare a page or two of Hilary Mantel’s work with worthy historical fiction by contemporary writers such as Peter Ackroyd or Susan Sontag. They are intelligent, but they are not novelistically intelligent. They copy the motions but rarely inhabit the movement of vitality. Mantel knows what to select, how to make her scenes vivid, how to kindle her characters. She seems almost incapable of abstraction or fraudulence; she instinctively grabs for the reachably real." James Wood na New Yorker, Abril 2012
Eu sinto isto na leitura, mas sinto isto ainda mais nas várias entrevistas que fui lendo e vendo dela, no modo como o seu pensamento é ágil, rápido e incisivo. Numa entrevista, deste mesmo ano, pelo espanhol ABC podemos ler Mantel comparando o mundo de há 500 anos com o atual — reis e políticos, a peste e o COVID — e perceber como conhece bem o funcionamento das entrelinhas que regulam o poder e as sociedades. Num ponto, aprofunda a importância do romance histórico de forma muito arguta:
"Se abre una brecha entre lo que sabemos ahora y lo que los personajes sabían en su época. El historiador emplea la mirada retrospectiva, es la herramienta fundamental de su oficio, pero esa mirada puede hacer que sintamos, erróneamente, que somos mucho más listos que las personas que vivieron antes que nosotros. La novela histórica estimula la empatía, el ejercicio crucial de ponernos en el lugar de otro. Nos permite pensar sobre la responsabilidad individual, sobre cómo controlamos nuestra vida (o lo intentamos), sobre la causa y el efecto, sobre el destino, si es que existe tal cosa, y sobre qué consecuencias imprevistas pueden derivarse de nuestras acciones con el tiempo. Puede ser superficial o producir la ficción más profunda sin esfuerzo aparente." Mantel em entrevista ao ABC, Setembro 2020
Ao terminar o livro, tive de respirar fundo, o adeus a Cromwell é de tal forma intenso e vivido, impossível de realizar por qualquer outro meio que não a literatura, que nos deixa ali estacados. Sim, o livro trata de política, do modo como o poder é manipulado pela retórica e pelo controlo sub-reptício dos atores envolvidos, mas o livro vai bastante além disso, dá-nos a sentir o modo como a vida humana trespassa tudo, como todos os nossos orgãos estão envolvidos. Não é mera cognição, na maior parte do tempo não se discute sequer o quê e o como concretos, mas apenas os sentires, os respirares. Daí que Mantel introduza imenso detalhe sobre roupa e têxteis, sobre cozinha e gastronomia, sobre o tempo e temperatura, sobre a decoração e as telas que se vão pintando. Mantel cria um mundo completo, e coloca os personagens dentro dele a "brincar", o que se passa além disso requer conhecimento histórico prévio nosso, ou pesquisa durante a leitura, mas nem sequer é vital. O foco não é saber quem era o Papa, ou o Imperador, ou Rei de França, mas é a vida tal como vivida naquele círculo restrito de personagens. Como alguns referiram, esta trilogia funciona como uma viagem ao passado, em que nos é dado a ver uma parte do que se passou, ou um espelho para esse passado como diz Mantel:
"But I’m interested in a way that as you go through your life, your memories change. It’s quite wrong to say that the past doesn’t change. It changes behind you, and every time you try to remember back, in a sense, you’re making a fresh version. What you’re doing is you’re holding up a mirror, and really, that’s why the book is called The Mirror and the Light, because it’s a mirror to the books that have gone before and it has fresh light." Mantel em entrevista, Glamour, March 2020
E talvez funcione tão bem porque Mantel manteve-se fiel a Cromwell toda a trilogia. O livro poderia ser uma grandiosa história recontada, com detalhes e perspetivas de múltiplas personagens, algo comum e que serve para nos oferecer uma análise menos enviesada, porque podemos comparar as diferentes perspetivas. Mantel não teve pudor em fixar-se detrás do olhar de um único personagem, e um personagem que os registos históricos tendem a mostrar como maquiavélico, logo muito pouco credível. Daí que tudo o que vamos vendo parece embater contra o que sabemos daqueles tempos, porque aquilo que estamos ali a viver (reviver) é pelos olhos de Cromwell. Ele pode ter sido o maior filho-da-mãe da história inglesa, mas na sua cabeça ele era um visionário e o maior benfeitor de sempre, e é com o isso que Mantel nos obriga a debater. Aliás, no primeiro livro deixei-me de tal forma seduzir que acreditei em tudo o que ele dizia, no segundo e terceiro livro, já ciente do que tinha na minha frente, comecei então a debater-me com o personagem, e tudo se torna ainda mais instigante. O que ele pensa, como os outros reagem a ele, de que o vão acusando, e como conseguimos nós interpretar tudo isso. Porque repare-se que nenhuma vez o narrador/autor, muito pouco presente, sai em defesa de Cromwell ou de qualquer outro, o trabalho aparece como se estivéssemos a assistir àquela realidade, mas pelos olhos dele, cabendo-nos identificar o que pode ser mais real ou menos real.
Diga-se que esta forma de contar histórias, apesar de estarmos diante de prosa, parece-se muito mais com o drama. Existe uma quase ausência de reflexão ou discussão por parte do narrador/autor e mesmo do próprio personagem através de quem vemos a realidade. Nós estamos dentro da cabeça de Cromwell, mas não vemos o mundo através dos seus pensamentos e reflexões, apenas o vemos através dos seus olhos. Ou seja, Mantel, ao contrário de Pessoa que nos atira para dentro do emaranhado de pensamentos de Bernardo Soares, coloca-nos imediatamente por detrás dos seus olhos. A narração descreve continuamente o momento presente, o que está a ser feito, a quem como e porquê. Vemos a ação a decorrer, como se Mantel estivesse a encenar o passado, e não a discorrer sobre ele. Mas nem por isso, ou talvez por isso, a escrita não deixa de ser altamente elaborada, e por conseguinte a leitura laboriosa no descortinar do que está a acontecer em cada momento.

De certa forma, esta abordagem enviesada por um olhar e pelo modo presente contribuiu para a definição do estilo de Mantel e para criação de um engajamento continuo dos leitores, como ela explica:
"the writer knows the outcome, so does the reader - but the characters don’t. You have to persuade your readers to be in 2 places at once. They can’t suspend their knowledge of what happened – they’re above the characters, looking down on them. But at the same time, if you’ve done your job, they’re moving forward with the characters, inhabiting their world. The suspense grows in the gap; the reader wants to know not so much what happens, as how the characters will react when it happens. The reader has to hold his or her own knowledge in suspension – hold reaction back. That’s what creates tension. You see them rushing towards their fate – you know, you fear for them, but you can’t stop them." Mantel entrevistada pelo Iowa Review, Junho 2017
É por isso que apesar da história de Inglaterra me dizer pouco ou nada, menos ainda um tempo dessa que se tornou popular por intrigas do foro privado da vida de reis e rainhas, li até ao final e com tanto prazer. Não me interessava em particular saber mais sobre Henry VIII, Anne Boleyn, Anne de Cleves ou Thomas Cromwell, mas o mundo recriado por Mantel, de tão vívido, gerou uma impressão continua tão forte que o meu engajamento nunca se desligou. Aliás repare-se como é a própria autora a dizer isto sobre o tema histórico em questão:
"When I began work on the French Revolution, it seemed to me the most interesting thing that had ever happened in the history of the world, and it still does in many ways. I had no idea how little the British public knew or cared or wished to know about the French Revolution. And that’s still the case. They want to know about Henry VIII (...) the imagination is parochial. I couldn’t have picked anything less promising, from a commercial point of view, than the French Revolution." Mantel em entrevista na Paris Review, n.212, Abril 2015